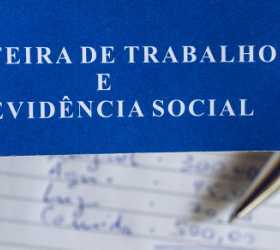Quase todo mundo tem uma música para chamar de sua. Uma música íntima, que alcança o mais profundo rincão da alma e revela um segredo até então protegido de nós mesmos pela espessa floresta dos mistérios humanos. Geralmente, um sentimento insuspeito que se mantinha pudicamente coberto até as primeiras notas exporem sua nudez desconcertante. Algumas vezes, levamos anos para interpretá-lo corretamente, entender a sua espécie, origem, deixá-lo chegar à plenitude e, assim, estabelecer uma convivência cordial.
Antes de continuar, é necessário fazer uma correção: inverti a certidão de posse. Na verdade, nenhum de nós escolhe a sua música íntima, é ela quem se apodera de cada um sem cerimônia e se instala sorrateira como legítima proprietária, ignorando sexo, raça, credo, posição social e nível econômico.
A música de que falo não é compartilhável, é um bem indivisível que, na maioria dos casos, sequer se confidencia. Se alguém perguntar à mulher com quem reparto o melhor dos meus amores há quarenta anos, ela provavelmente dirá que é ‘Começaria Tudo Outra Vez’. Se eu estiver junto, talvez me cale ou até concorde com um leve sorriso - afinal, preciso preservar a minha saúde física e mental. Mas, sinceramente, o belíssimo bolero de Gonzaguinha é a nossa canção de casal apaixonado e não a minha música íntima.
A dita cuja me pegou no ano de 1971 quando assistia a um filme italiano. Contava a história de um maestro que convida a ex-mulher para um encontro em Veneza, depois de anos de separação. Mesmo temendo que ele queira tomar-lhe o filho, ela vai. Então, o amor começa a renascer. Nesse clima, em meio aos ensaios de um importante concerto, ele acaba entregando que está com os dias contados por uma doença incurável. Resumindo: dirigido por Enrico Maria Salerno, o filme é um daqueles dramalhões românticos para Hollywood nenhuma botar defeito. Na penumbra da sala do cine Carioca, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, eu podia vislumbrar os homens enxugando disfarçadamente as lágrimas furtivas, enquanto as mulheres não economizavam os lencinhos – naquele tempo, senhoras e senhoritas ainda levavam na bolsa um ou dois, geralmente de seda bordada.
Com soberba interpretação dos atores principais, Florinda Bolkan (Bulcão), natural de Uruburetama, no Ceará, e Tony Musante, americano de Connecticut, mais conhecido por participações em seriados de tevê como Arquivo Confidencial, O Fugitivo etc., e uma fotografia impecável de Marcello Gatti (se bem que filmar em Veneza é meio caminho andado), a obra cumpriu o seu objetivo com louvor, ou seja, emocionar o espectador em todos os sentidos. E aí entra, também e principalmente, a música.
O tema central da trama é o adágio do Concerto em Ré para Oboé e Cordas. Erradamente atribuído ao veneziano Benedetto Marcello, foi composto por seu irmão mais velho, Alessandro (1673-1747). É uma obra-prima de menos de cinco minutos com um poder arrasador superior ao do adágio do Concerto de Aranjuez, composto em 1938 pelo espanhol Joaquin Rodrigo Vidre (1901-1999), meu preferido até aquele momento.
Porém, em minha opinião, nada se compara à deslumbrante canção composta pelo maestro Stelvio Cipriani, que tomou para sempre o nome do filme: ‘Anônimo Veneziano’. Esta é a minha música íntima, aquela que me pegou de jeito. Não a conhecia, nem de ouvir falar. E por ela, sem pensar duas vezes, fiquei para mais uma sessão. Depois, outra e mais outra. Saí do cinema às tantas e às tontas, inebriado, assobiando a melodia para não esquecê-la – como se fosse necessário!
Ao chegar à casa, tirei compasso por compasso no velho violão Giannini, herança de família que o tempo levou. Passei dias reproduzindo aquela canção. Então, percebi que a cada vez me emocionava mais com um sentimento de indecifrável tristeza crescente. Daí por diante, parei de tocá-la, parei de ouvi-la. Porém, sempre que soava por algum acaso, independentemente do lugar, hora, circunstância e companhia, eu chorava aos soluços, o que me causava grande constrangimento.
Durante muito tempo, lidei com essa reação da maneira que pude. Lembro-me de uma vez em que pretextei um cisco no olho para escapar até o banheiro de um bar, onde bebia uns chopes com a namorada da hora. De outra, fingi um acesso de tosse. Em várias ocasiões, ataques de riso. Até que um dia, sem mais nem menos, entendi que aquela música não expunha algo passageiro, uma falha eventual que se deve ocultar a todo custo, e sim, uma parte essencial e inalienável do meu ser, um sentimento profundo, verdadeiro e permanente, que sempre existiu e sempre existirá enquanto eu viver: a solidão que mora em mim.
Ora, viva! Enfim, livre! Deixei a dissimulação e escancarei aquele sentimento, sem medo de ser infelizmente feliz. Andei por todos os sebos da cidade até encontrar o bolachão de Anônimo Veneziano; gastei agulhas e lenços a não poder mais e, aos poucos, aprendi a conviver sem cerimônia com a minha solidão. Hoje, somos grandes parceiros e confesso que não poderia existir sem ela. Se eu continuo a chorar sempre que ouço a minha música íntima? É claro! Como diria Cazuza, ‘faz parte do meu show’.